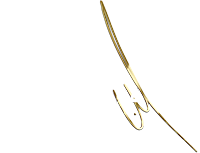
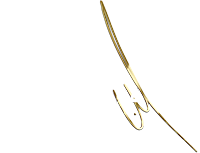
04.07.2018
Resumo:
O novo Código de Processo Civil e a contribuição que dele se espera para a construção de uma jurisprudência estável, uniforme e coerente, concretizando os princípios constitucionais da unicidade jurisdicional, segurança jurídica e isonomia das decisões. Os desafios e riscos existentes. O início de um debate acerca do ativismo jurídico e a possível necessidade de uma Corte Constitucional na Justiça Brasileira para a preservação da autonomia e harmonia das funções legislativa, judiciária e executiva. Dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: Novo Código de Processo Civil. Princípios Constitucionais. Unicidade. Segurança. Isonomia. Ativismo jurídico. Harmonia dos Poderes..
Abstract:
The new Civil Procedure Code and that his contribution is expected to build a stable jurisprudence, uniform and consistent, implementing the constitutional principles of national unity, legal certainty and equality of decisions. Existing challenges and risks. The start of a debate about the legal activism and the possible need for a Constitutional Court in Brazilian courts to preserve the autonomy and harmony of the legislative, judicial and executive functions. Human dignity.
Keywords: New Code of Civil Procedure. Constitutional principles. Uniqueness. Safety. Equality. Legal activism. Harmony of Powers. Human dignity.
Uma nova codificação processual para o enfrentamento de velhos problemas do Poder Judiciário em busca de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente.
Qualquer escorço histórico sobre a evolução da processualística civil brasileira no último século, mesmo o mais despretensioso, revela um progressivo esforço do legislador para propiciar ao aplicador do direito e, naturalmente, ao jurisdicionado, um sistema jurisdicional mais eficaz, efetivo, célere e razoavelmente seguro.
Almeja-se realizar, concretamente, o princípio constitucional da duração razoável do processo, garantindo ao cidadão acesso à justiça, preservando a unidade jurisdicional e uma isonomia e segurança “mínima” das decisões.
Na doutrina de ANDRÉ RAMOS TAVARES “O termo ‘concretização’ (Konkretisierung) tem sido utilizado, por diversos autores, especialmente na doutrina alemã, para sublinhar o sentido (implícito) de atualização (Hesse, 1992:47-48)”.
O Poder Judiciário, assim como a maioria dos serviços públicos nacionais, vivencia um drama em sua eficiência na medida em que o excesso pela demanda jurisdicional não veio proporcionalmente acompanhado de uma estrutura física e humana consentânea com o avanço das complexidades das relações sociais e seus conflitos.
A crise do Poder Judiciário se revelou no atraso da prestação jurisdicional em decorrência do grande número de processos, no represamento dos recursos nos Tribunais e na desestruturação física, no desaparelhamento, dentre outros fatores, tudo a prejudicar o acesso à justiça, tanto em seu significado físico quanto simbólico.
Seu enfrentamento, assim, tem passado por soluções administrativas e legislativas.
De um lado, o estabelecimento de metas para a solução dos processos mais antigos e a novel estruturação de um “processo eletrônico”, com as benesses que a informatização proporciona e, de outro, uma legislação mais “criativa” com mecanismos processuais modernos de tutela cautelar e satisfativas mais eficazes.
Não bastante o princípio da eficiência da administração pública, já previsto como norma programática na Constituição Federal há mais de 10 anos, erigiu-se, também, pela Emenda Constitucional 45 a “razoável duração do processo” e os “meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, tanto no âmbito jurisdicional como administrativo.
Avança-se, paulatinamente, na superação desses velhos entraves.
No entanto, as reformas processuais e, sobretudo, os novos modelos processuais positivados, especialmente a Lei 13105/15 (Novo Código de Processo Civil), exige extrema cautela na medida em que há no topo do sistema jurídico um “processo constitucional” a ser respeitado e comprometido com a preservação da segurança jurídica, da isonomia, e todos os demais princípios de natureza constitucional, do qual dependem sua validade e legitimação.
Nesse contexto, não pode haver conflito ou escolha, verbi gratia, da rapidez em detrimento da segurança.
Inadmissível, num sistema jurídico, a colisão entre regras. Antinomias são apenas aparentes e se uma norma estiver em descompasso com o espírito constitucional deve ser expurgada pelo reconhecimento, ainda que tardio, de sua (in)validade ou (i)legitimidade.
O Novo Código de Processo Civil, estatuído pela Lei 13105/15, já em vacatio legis para revogar o vigente Código de 1973, aos 16 de março de 2016, impõe necessárias reflexões em torno da aproximação do princípio constitucional da unicidade jurisdicional, da segurança jurídica e da isonomia das decisões.
Algum risco existe na medida em que se estima que mais da metade dos processos em trâmite na justiça brasileira tem o Estado num dos polos, sem levar em consideração os grandes e frequentes litigantes, que poderiam se beneficiar em tese, de forma odiosa, com alguma ingerência sobre a formação dos precedentes que vincularão todos os juízos e Tribunais inferiores.
A busca pela construção de uma jurisprudência uniforme, íntegra e coerente.
J.J. GOMES CANOTILHO destaca que o exercício da jurisdição não se dá, apenas, por critérios materiais ou substantivos, com regulação “jurídica-objetiva” quanto ao modo de exercício por regras e princípios processuais, o “processo”, mas também aspectos “subjetivos-orgânicos”, atribuídos a titulares dotados de determinados características, os “juízes”.
Malgrados os esforços para superação da crise na administração da justiça, os números da justiça brasileira, em 2015, revelam a existência de quase 1 (um) processo para cada 2 (dois) habitantes, ou seja, quase 100 (cem) milhões de processos em curso.
Não obstante figurar o próprio Estado no pólo ativo ou passivo de grande parte desses processos (mais de 50% - cinquenta por cento), ou também os entes que desempenham atividades públicas (telecomunicações, ensino, planos de saúde, etc), por concessão ou delegação, a verdade inescapável é que nada salutar para a isonomia formal dos jurisdicionados é a coexistência de divergências jurisprudenciais, presente em decorrência do “gigantismo” nacional.
Pior: a existência de decisões divergentes e uma jurisprudência não estabilizada desperta insegurança jurídica e sentimento de incerteza ou instabilidade.
O Novo Código de Processo Civil, “rebus sic stantibus”, avança nesse sentido e vai ao encontro, no sentido convergente, dos princípios constitucionais da unicidade jurisdicional, da segurança, e da isonomia das decisões.
E a problemática pode ser mais intensa nas decisões de primeira instância já que, razoavelmente, sempre existiram instrumentos recursais para correção das divergências de julgar e mínima uniformização no âmbito dos Tribunais Superiores, com o manejo dos recursos excepcionais.
Não se pretende reviver os eternos embates doutrinários, menos conscientes, da (des)necessidade de se conferir mais ou menos “poder” aos juízes e Tribunais inferiores.
O poder é inerente e absolutamente necessário ao ato jurisdicional, porquanto o magistrado desempenha o papel do “Estado-Juiz” e nada haverá de ilegal enquanto esse poder se escorar nos princípios da legalidade e do devido processo legal, com a preservação de todos os seus consectários.
Mas perniciosa seria a ausência de instrumentos legais e legítimos de contenção dos “limites criativos” e “subjetivismos” que jamais podem extrapolar os limites constitucionais e a isonomia das normas e o resultado, dispositivo, de suas aplicações, sob pena de se ferir a segurança jurídica.
O próprio ativismo judicial, entendido como a atuação do Poder Judiciário nas esferas fundamentais dos Poderes Executivo e Legislativo, pode ser visto como um desequilíbrio no exercício do poder uno do Estado, tripartido em funções num sistema de freios e contrapesos.
Pode relevar, com algum pessimismo, a necessidade de uma Corte Constitucional, democrática, para moderar os cada vez mais frequentes conflitos entre os Poderes Constituídos da República.
Ressalve-se que o Conselho Nacional de Justiça não tem esse condão, servindo de controle externo sobre os atos administrativos do Poder Judiciário.
É que não se pode negar que, por serem homens, os juízes e os membros integrantes dos Tribunais também têm nas suas individualidades diferentes influências sócio-culturais que, inexoravelmente, refletem em suas convicções normativas e axiológicas.
Não são raras, pelo contrário, frequentes as constatações das diferentes formas de pensar, sentir e julgar, entre julgadores de diferentes gerações, classes sociais e até mesmo convicções políticas, filosóficas e religiosas.
Não por outra razão que um dos desafios do processo constitucional é garantir a construção de uma jurisprudência razoavelmente uniforme, coerente e estável, de forma que em nenhuma instância jurisdicional convivam decisões contaminadas, ou influenciadas, por essa riqueza da individualidade, ferindo a esperada a isonomia e segurança das decisões.
Como superar o risco de Antônio ter uma decisão mais generosa, por exemplo, em uma ação de indenização por danos morais, que Francisco, submetidos, em primeira instância, sem interposição de recursos, ao crivo julgador de juízes com convicções divergentes sobre a natureza punitiva e indenizatórias desses danos?
Sem os recursos excepcionais e sem uma jurisprudência vinculantes, haveria o risco de sentenças de casos semelhantes transitarem em julgado, em primeira instância, com modulações diferentes.
Obviamente esse risco seria diminuído com a submissão dessas decisões, em graus de recursos, a instâncias superiores e colegiadas.
Essencial revisitar sempre a doutrina de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO que bem traduz os critérios a serem considerados para se definir se uma regra se encontra em conformidade ou em confronto com o princípio constitucional da isonomia, in verbis:
“Então, no que atina ao ponto central da matéria abordada procede afirmar: é agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou exclusão no benefício deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto. Cabe, por isso mesmo, quanto a este aspecto, concluir: o critério especificador escolhido pela lei, a fim de circunscrever os atingidos por uma situação jurídica - a dizer: o fator de discriminação - pode ser qualquer elemento radicado neles; todavia, necessita, inarredavelmente, guardar relação de pertinência lógica com a diferenciação que dele resulta. Em outras palavras: a discriminação não pode ser gratuita ou fortuita. Impende que exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado construído e a razão diferencial que lhe serviu de supedâneo. Segue-se que, se o fator diferencial não guardar conexão lógica com a disparidade de tratamentos jurídicos dispensados, a distinção estabelecida afronta o princípio da isonomia.”
Há que se conter, sem qualquer limitação ao poder, os excessos do “subjetivismo” e da “liberdade criativa” dos julgadores, em prol de uma tutela jurisdicional uniforme e segura, previsível.
O ideário de perfeição, essencial para o bom funcionamento do sistema jurídico, encontra inexorável dificuldade na transposição da multiplicidade de fatores que influenciam os aplicadores do direito, sobretudo os investidos no poder jurisdicional, provocando irrefutável margem de subjetivismo.
Havia, portanto, a necessidade de uma uniformidade, embora não imune de riscos e pagando um certo preço: o engessamento de uma discussão perene, exercida por qualquer juízo ou Tribunal, como se permitia até então.
O Novo Código de Processo Civil e os seus mecanismos legais para o favorecimento de uma unidade jurisdicional e a concretização de segurança e isonomia dos julgados.
O sistema engendrado pelo legislador do Novo Código de Processo Civil, consciente ou não, proporciona um instrumental mais valioso não só na ambiciosa pretensão de proporcionar uma entrega mais rápida, efetiva e satisfativa da tutela jurisdicional.
Se bem realizado, permitirá também uma unidade jurisdicional, com mecanismos de controle legítimo das excessivas liberdades, divergências subjetivas e “criativismos”.
Do contrário, poderia existir um extrapolamento constitucional, como previne LÊNIO STRECK:
Não podemos converter cada unidade jurisdicional brasileira em uma “microconstituinte” ou nela encontrar um “código” particular. Democracia pressupõe igualdade e essa pressupõe conhecer o direito e vê-lo aplicado isonomicamente para o cidadão de Rio Branco ou do Alegrete. Os tempos passam, mas não se pode esquecer que uma revolução começou em 1789 em larga medida porque os súditos não aguentavam mais se sujeitar a magistrados que decidiam conforme suas consciências e em nome de “costumes” que só eles sabiam interpretar.
Esse valioso objetivo do Novo Código de Processo Civil está estampado, de forma bem explícita e válida para todo o sistema jurídico, em seu art. 926, inserido no livro III, que cuida dos processos nos Tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais, especialmente na regulamentação da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais, dispondo que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.
Perfeitamente possível, assim, a identificação de um microssistema, porquanto no bojo do código e expandido subsidiariamente para muitas outras normas, para a realização desse escopo, de forma que estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante, atentos às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Assim, com reconhecida determinação impositiva, dispõe o art. 927 do mesmo codex que os juízes e os tribunais necessariamente observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os acórdãos prolatados em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
Por isso, em grande consonância, estão os seguintes dispositivos, que dispuseram acerca da improcedência liminar do pedido, do incidente de resolução das demandas repetitivas, da assunção de competência, da reclamação, da argüição de descumprimento de preceito constitucional e do julgamento dos recursos excepcionais repetitivos:-
DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.
§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.
§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.
DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
DA RECLAMAÇÃO
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucional
DO JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL REPETITIVOS
Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.
E, apesar de extinguir o juízo de admissibilidade dos recursos pelo Tribunal recorrido, o que potencialmente eleva o risco de represamento dos recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, reafirmou a repercussão geral como estratégia de objetivação expansiva da jurisprudência constitucional, restringindo o acesso ao Supremo Tribunal Federal como mera instância recursal, mas pela sua verdadeira vocacional institucional de preservação da Constituição Federal, como corte suprema que é:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO:-
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Não se nega, portanto, a contribuição que tais regras proporcionarão para uma jurisprudência desprovida de divergências “subjetivistas”.
Com isso se evitará, apesar dos regionalismos inegavelmente existentes, as “pechas” de que um Tribunal de um determinado Estado da Federação seja mais conservador ou liberal que outro.
É preciso sempre, na ordem constitucional, reafirmar a unicidade jurisdicional escolhida pelo Poder Constituinte Originário.
Os riscos decorrentes desse sistema proposto pelo Novel Código de Processo Civil
A concretização, sedimentada, num país de tantas Comarcas e Tribunais, estaduais e federais (gigantismo territorial), de uma jurisprudência uniforme, coerente e estável exige um preço: que se imponha, com legitimidade e validade, limitações ao subjetivismo jurisdicional, especialmente em primeira instância, a fim de evitar decisões conflitantes ou impregnadas de diferentes convicções pessoais, ao que ousamos chamar de “subjetivismo” jurisdicional.
Há que se respeitar um positivismo válido imposto pela Carta Política e especialmente pelos Tribunais Superiores, mormente o Supremo Tribunal Federal, como corte constitucional máxima que é, como forma de validação para todas as decisões emanadas dos órgãos jurisdicionais.
É como bem destaca JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, “a jurisprudência consolidada garante a igualdade dos cidadãos perante a distribuição da justiça, porque situações análogas devem ser julgadas do mesmo modo, sobretudo no Brasil, em que há grande número de tribunais. O tratamento desigual é forte indício de injustiça em pelo menos um dos casos”.
Não por outro motivo que o princípio do “livre convencimento”, ainda que motivado, não foi repetido no texto do novel Código de Processo Civil.
Embora historicamente os Códigos Processuais estejam baseados no livre convencimento e na livre apreciação judicial, não é mais compatível com a modernidade processual, em uma democracia estabilizada, continuar transferindo a resolução dos casos complexos em favor da apreciação subjetiva dos juízes e tribunais.
E se mostra anacrônica a tentativa de defender a ideia de que essa liberdade, em forma de princípio, já se encontra arraigada.
Como magistralmente defendeu LÚCIO DELFINO, cuja extensa passagem merece ser colacionada, mesmo que se cometa aqui um erro metodológico:
“A suposta permanência do livre convencimento estaria fundada nas razões pelas quais foi concebido: como antídoto destinado ao combate dos sistemas da prova legal e do livre convencimento puro, jamais como método de aplicação da lei, espécie de alforria para que o juiz julgue como bem entender. Mesmo que tenha sido essa a única alavanca motivacional do legislador à época, é indispensável perguntar: E daí? Quer dizer que é suficiente pensarmos no que mirava o legislador quando da elaboração do texto legal para que o sentido dele extraído se dê a contento? Basta que o livre convencimento motivado tenha sido concebido como antídoto aos superados sistemas de provas para que nos livremos de interpretações inautênticas e voluntaristas?
Nem é preciso ser hermeneuta (com ou sem aspas) para responder negativamente a essas questões. Afinal, entendimento contrário nos levaria de retorno à Escola da Exegese. Nos tempos atuais já deveria ser óbvio que as palavras têm força e seus sentidos obtêm-se pelo uso que se faz delas (Wittgenstein). Em linguagem semiótica: o problema dos sentidos reposicionou-se para o nível da pragmática, deslocando-se dos planos da sintaxe e da semântica. Na prática do foro se constata tal realidade cotidianamente, pois é ali, situadas dentro de um contexto fático, que as palavras ganham vida e recebem sentido não raro desvirtuados daquilo que se ambicionou quando da sua utilização nos textos legais. Pior é quando a coisa degringola e o intérprete crê estar autorizado a avançar aventureiro para além das possíveis respostas autênticas que o texto oferece, assujeitando-o segundo seus anseios, torcendo sua estrutura para atingir sentidos cujas fundações só se encontram em sua própria mente, algo que, infelizmente, é corriqueiro em uma justiça como a brasileira, na qual se mantém habitual o jargão “direito é aquilo que os tribunais dizem que é”.
(...)
A verdade é que o “princípio” do livre convencimento motivado não se sustenta em um sistema normativo como o novo CPC, que aposta suas fichas no contraditório como garantia de influência e não surpresa e, por isso, alimenta esforços para se ajustar ao paradigma da intersubjetividade, em que o processo é encarado como um locus normativamente condutor de uma comunidade de trabalho na qual todos os sujeitos processuais atuam em viés interdependente e auxiliar, com responsabilidade na construção e efetivação dos provimentos judiciais. O que se quer do juiz não é que se torne simples estátua na proa do navio (ou umrobô), em recuo ao liberalismo processual, mas sim que assuma definitivamente suaresponsabilidade política. Suas pré-compreensões, seu pensar individual ou sua consciência não interessam aos jurisdicionados. Pertencem a ele e interessam a si próprio e àqueles com quem convive ou que com ele pretendam coexistir. A jurisdição tem por escopo resolver conflitos conforme o direito, a surgir da interpretação das leis, dos princípios constitucionais, dos regulamentos e dos precedentes com DNA constitucional. E é nele, no direito construído intersubjetivamente no ambiente processual, que as atenções de todos os atores processuais devem se voltar.
A par dos ganhos com celeridade, segurança e previsibilidade dos julgamentos, alguns são os riscos decorrentes da opção do legislador por um sistema jurisdicional baseado no esforço concentrado da construção de precedentes e súmulas válidas e vinculantes para todo o ordenamento jurídico.
O primeiro deles é que, de certa forma, diminui a liberdade jurisdicional dos juízes e Tribunais inferiores.
Outro, e certamente o mais temeroso, é que possam existir ingerências externas e políticas na formação desses preceitos.
O ativismo judicial exagerado permite atividade legislativa por parte do Poder Judiciário e, o que é pior, pode até prejudicar direitos sociais e consumeristas.
Daí a necessidade, citada alhures, de se pensar na criação de um Corte Constitucional com o fito de moderar, democraticamente, a esfera de atuação e competência de cada um dos Poderes Constituídos do Estado que, não é supérfluo recordar tem um poder só, tripartido em suas funções.
Exemplo desse risco pode ser o julgamento do Recurso Especial nr. 1315668 que, recentemente, decidiu que o reajuste nas mensalidades dos planos de saúde, conforme a faixa etária do segurado, não é ilegal.
Esse foi o entendimento firmado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que acolheu recurso especial de operadora para reformar decisão que reprovou o reajuste de mensalidades de planos de saúde em razão da idade:
“Nos contratos de plano de saúde, os valores cobrados a título de mensalidade devem guardar proporção com o aumento da demanda dos serviços prestados”.
O Ministério Público havia interposto Ação Civil Pública em virtude de abuso nos reajustes das mensalidades dos planos de saúde com base exclusivamente na mudança de faixa etária.
Procedente em primeira instância, a sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas, no Superior Tribunal de Justiça, a ministra NANCY ANDRIGHI teve voto vencido, prevalecendo a exegese do ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
Destarte, ficou superada a tese jurisprudencial, antes marcada com destaque no Superior Tribunal de Justiça, que previa que os planos de saúde não poderiam cobrar valores diferenciados aos segurados por conta da “mudança da faixa etária”, conforme prevê o artigo 15, §3º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) que veda(va) "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade".
Segundo o Ministro relator, a norma vedaria o preconceito contra a discriminação pela idade, mas não impediria que houvesse reajuste sob outra justificativa:
“Não se extrai de tal norma interpretação que determine, abstratamente, que se repute abusivo todo e qualquer reajuste que se baseie em mudança de faixa etária, como pretende o promovente desta Ação Civil Pública, mas tão somente o reajuste discriminante, desarrazoado, que, em concreto, traduza verdadeiro fator de discriminação do idoso, justamente por visar dificultar ou impedir sua permanência no plano”
“Os planos de saúde são cobrados conforme a demanda dos usuários e ajustados de forma que aquele que mais se utiliza do plano arque com os custos disso. Isso se faz por previsões. Daí o critério de faixa etária”.
Não obstante o Ministro ter alertado para os critérios de verificação da razoabilidade desses aumentos e para a necessidade de se coibirem reajustes abusivos e discriminatórios, no caso de empresas que se aproveitam da idade do segurado para ampliar lucros ou mesmo dificultar a permanência do idoso no plano, não se pode negar que o julgamento foi de encontro, no sentido da divergência, ao pretendido pelo legislador que instituiu o Estatuto do Idoso.
Poderia a decisão ter sido modulada, de forma que protegesse aqueles que por muitos anos foram consumidores do plano e que, no interregno da jovialidade, também menos usaram do plano.
Cumpre destacar que a formação dos precedentes deverá levar em conta situações unicamente de direito e que não de fato, conforme prudente artigo de JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI que alerta:
“não é tão incomum e tampouco impressiona quem é versado em direito, visto que o conflito de decisões sobre matéria de fato, embora paradoxal, desponta lógico e não propriamente jurídico. E isso porque o resultado de cada ação judicial, embora análoga a outra, depende de muitas variantes”.
Há um aparente paradoxo entre a liberdade jurisdicional de um lado e a necessidade de fidelização aos precedentes jurisdicionais assentados pelas cortes superiores.
Mas não se pode confundir, ou melhor, se deve justamente reconhecer os limites para essa liberdade, vez que discricionariedade não é sinônimo de liberdade.
Para que a jurisprudência atinja a coerência, a estabilidade e a unicidade pretendidas é preciso frear o subjetivismo que se aproxima da liberdade de julgar sem limites.
Entrementes, que se reconheça logo o perigo na liberdade de aplicar, sem limites bem definidos, pelos juízes e Tribunais inferiores, as chamadas “cláusulas gerais” do Código Civil e, também, as “regras de ponderação” do Novo Código de Processo Civil.
Do contrário, poderemos encontrar decisões monocráticas ou colegiadas, desprovidas de legitimação constitucional, que não são emanadas dos Tribunais Superiores, extrapolando seus limites e exercendo funções que são, institucionalmente, privativas do Poder Constituinte Derivado.
Nesse sentido, nosso pensamento vai ao encontro daquilo que pensa e defende OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR e SÉRGIO RODAS, no mesmo caminho de LENIO STRECK, ao citar o jurista alemão Jan Peter Schmidt, pesquisador do Instituto Max-Planck de Hamburgo, ressaltando que o Brasil deveria rever a função desses princípios e cláusulas gerais:
“O objetivo dessas cláusulas não é dar poder ao juiz para prevalecer sobre o legislador. A função delas é permitir que o juiz tome decisões razoáveis quando houver uma lacuna na legislação, para que, por exemplo, quando não houver normas, ele possa encontrá-las nas cláusulas gerais, que podem guiá-lo nessa direção”
De fato, as cláusulas gerais podem representar um risco, criando incertezas jurídicas pelo poder ilimitado que conferem aos juízes. Objetivo das cláusulas não é dar poder ao juiz para prevalecer sobre o legislador. A função delas é permitir que o juiz tome decisões razoáveis quando existir uma lacuna na legislação, para que, por exemplo, quando não houver normas, ele possa encontrá-las nas cláusulas gerais, que podem guiá-lo nessa direção, ressalta o jurista de escol.
Ressalta o mesmo LÊNIO STRECK que “o pan-principialismo e o ab-uso das (e nas) cláusulas gerais vinha de uma equivocada interpretação da jurisprudência dos valores e da tese alexyana de que princípios são mandados de otimização:
“(...) é equivocada a tese de que os princípios são mandatos de otimização e de que as regras traduzem especificidades (em caso de colisão, uma afastaria a outra, na base do “tudo ou nada”), pois dá a ideia de que os “princípios” seriam “cláusulas abertas”, espaço reservado à “livre atuação da subjetividade do juiz”, na linha, aliás, da defesa que alguns civilistas fazem das cláusulas gerais do novo Código Civil, que, nesta parte, seria o ‘Código do juiz’”.
“Começa-se a usar de conceitos e ferramentas típicas da análise econômica do Direito e a se falar em ponderação ou sopesamento de princípios e valores, bem ao gosto, respectivamente, dos escritos de Richard Posner e Robert Alexy. Experimentam-se, nesse cenário, situações de desagradável sincretismo metodológico, importação e apropriação inadequadas de conceitos e de categorias, tudo em nome de argumentações grandiloquentes, que, muita vez, escondem falácias, jogos de palavras ou vazios de fundamentação. (...) Quando se diz algo como ‘o novo Direito Civil busca os princípios e não a letra fria da lei’ ou ele se ocupa ‘da Justiça e não da Lei’, faz-se uma brutal confusão entre o problema de o Direito ter um referencial externo (a Justiça, a Legitimidade, o Bom, o Moral) de correção de suas normas e a forma como o Direito é estudado. (...) Nesse sentido, ‘a existência de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais na Constituição, o que é esperável dada sua natureza normativa específica, é campo fértil para a ação dos interessados no arbítrio e no abuso da discricionariedade judicial. Se foi possível realizar demagogia judiciária com base em elementos do próprio Direito Civil, agora isso é feito com a invocação do texto constitucional’”.
O Novo Código de Processo Civil deixa aberta uma “porta” para esse risco, na chamada “Ponderação de Normas”, cuja sistemática é constitucional e não sede para juízos e Tribunais inferiores:
§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
Referidos dispositivos extrapolam os limites de uma lei federal e devem ser questionadas na medida em que admite antinomias, e ainda confere poder ao juiz de “ponderar” normas, afastando-as, e remetendo às justificativas, abertas e sem limites, da cláusula geral da boa-fé, mais uma vez, imorredouros da subjetividade, permissivos de decisões conflitantes.
Concordamos com NÉVITON GUEDES:
“Por essa mesma razão, deve-se concluir impossível cogitar de ponderação em caso de conflitos de regras constitucionais, já que as regras, diversamente dos princípios, são caracterizadas precisamente por serem normas ou posições jurídicas definitivas e, por sua específica estrutura, já foram anteriormente ponderadas, tornando impossível uma (nova) ponderação como regras”.
Ousamos apenas destacar: exercício de ponderação de regras deve-se dar apenas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para normas constitucionais, sendo imprópria a sede para as demandas que gravitem em torno de leis federais ou com reflexos apenas indiretos ao texto constitucional.
O verdadeiro escopo: proporcionar a duração ainda mais razoável do processo como fonte de concretização da dignidade da pessoa humana.
Apesar dos riscos alertados e dos avanços pretendidos, deve-se ter sempre a referência de que toda a construção legislativa deve estar em consonância com as normas, regras e princípios da Constituição Federal.
Nesse sentido, a unidade jurisdicional e a duração razoável do processo devem preponderar, prevalecendo com suas eficácias normativas e vinculantes para todo o ordenamento jurídico, especialmente no plano da eficácia das normas infraconstitucionais, dentre elas, o novel diploma processual civil já em vacatio.
A par de todas as ondas de acesso à justiça, classicamente identificadas por CAPELETTI e GARTH, é preciso vislumbrar que o maior escopo de nosso ordenamento é proporcionar meios, mesmo na seara processual, para amparar o largo e rico elastério de direitos que informam a “dignidade da pessoa humana”.
No aspecto processual, a dignidade da pessoa humana pode ser realizada justamente em disponibilizar ao jurisdicionado um processo que seja seguro, isonômico e rápido no atendimento da prestação deduzida em juízo.
Nunca é supérfluo relembrar a máxima histórica de que justiça tardia é o mesmo que injustiça.
Como destaca CUNHA JUNIOR, “É preciso enfatizar, que a dignidade da pessoa humana – alçada a princípio fundamental pela Constituição Brasileira (CF/88, art. 1º, III) é vetor para a identificação material dos direitos fundamentais – apenas estará assegurada quando for possível ao homem uma existência que permita a plena fruição de todos os direitos fundamentais”.
Aliás, não se trata de um objetivo limitado vez que sempre poderão haver esforços e haverá espaço, no Estado Social e Democrático de Direito, para a construção de uma sociedade mais justa, menos desigual e que favoreça e proporcione um elastério cada vez mais amplo de proteção aos direitos mínimos e essenciais para que o ser humano tenha um vida mais digna e feliz.
E esse não é um valor supremo almejado apenas pelo Estado Brasileiro mas por todas as nações que erigiram a proteção da pessoa humana após os acontecimentos revolucionários que marcaram o mundo acidental em busca de um Estado que efetivamente regule a sociedade para o bem de todos.
Conclusão
Por tudo o que fora exposto nesse despretensioso artigo, tem-se que o novel Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, já em “vacatio legis”, será um poderoso instrumento processual, dotado de um sofisticado microssistema, voltado para a construção de uma jurisprudência uniforme, íntegra e coerente.
Entrementes, proporcionará segurança jurídica e celeridade processuais, ao mesmo tempo em que diminuirá as divergências jurisprudenciais decorrentes do gigantismo territorial brasileiro, apesar das peculiaridades regionais.
No entanto, sem que isso importe em diminuição de poderes dos órgãos jurisdicionais, forçosamente deverão ser limitados os “subjetivismos” e “criativismos” por parte dos juízes e Tribunais inferiores.
Destaca-se, ainda mais, o poder no qual foram investidos e para os qual foram instituídos os Tribunais Superiores, formadores da orientação jurisprudencial que, na forma de súmulas e enunciados, orientará impositivamente a todos os demais órgãos jurisdicionais.
Os precedentes judiciais deverão se restringir a questões unicamente de direito e jamais que possuam variantes fáticas que deverão ser sopesadas individualmente, em cada caso concreto.
Algum risco deve ser reconhecido no que tange à formação dessa jurisprudência superior, a fim de se evitar ingerências externas e atuação de interesses dos grandes litigantes habituais, especialmente o Estado, as instituições financeiras, telecomunicações, operadores de planos de saúde, escolas e afins.
Também merece atenção e reflexão o crescimento do chamado “ativismo judicial” que parece trazer um profícuo debate sobre a conveniência de existir no país uma Corte Constitucional, democrática, de forma a julgar a harmonia e a autonomia de funções entre os Poderes constituídos do Estado que dividem as funções executiva, judiciária e legislativa.
Com isso, espera-se que a Lei 13.105/15 seja um instrumento utilíssimo para a concretização dos princípios da segurança jurídica e da isonomia na aplicação das normas, com a afirmação da unidade jurisdicional, e que os Tribunais Superiores desempenhem, com a responsabilidade e autoridade em si investidas pela Constituição Federal de forma a evitar o risco na construção de uma jurisprudência superior e vinculante para todos os órgãos jurisdicionais desapegada de ingerências externas, ilegítimas, de interesses econômicos de litigantes eventuais ou do próprio Estado que escapem aos pilares do mais lídimo respeito ao Estado Social e Democrático de Direito.
Por todo o exposto, o que se espera é que se realize, com um processo sempre cada vez mais rápido, seguro e isonômico, o avanço de todos os direitos fundamentais da pessoa humana ao encontro de um conceito ilimitado que é o da dignidade.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:-
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Ed. Malheiros, 3a. ed. SP, 2010.
CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Editora Almedina. Coimbra, 2003.
CRUZ E TUCCI, José Rogério. http://www.conjur.com.br/2015-jan-20/paradoxo-corte-nao-possivel-formar-precedente-judicial-materia-fato
CUNHA JUNIOR, Dirley da. A efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais e a Reserva do Possível. Leituras Complementares de Direito Constitucional: Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. 3. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 349-395, 2008.
DELFINO, Lúcio. http://justificando.com/2015/04/13/a-expulsao-do-livre-convencimento-motivado-do-novo-cpc-e-os-motivos-pelos-quais-a-razao-esta-com-os-hermeneutas/
GUEDES, Neviton. http://www.conjur.com.br/2014-jul-21/constituicao-poder-regras-constitucionais-nao-admitem-ponderacao
STRECK, Lênio. http://www.conjur.com.br/2015-mar-05/senso-incomum-balde-agua-fria-pan-principialismo-clausulas-gerais2
TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Brasileiro Concretizado. Editora Método. São Paulo, 2006
RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz et al. http://www.conjur.com.br/2015-mar-01/entrevista-reinhard-zimmermann-jan-peter-schmidt-juristas